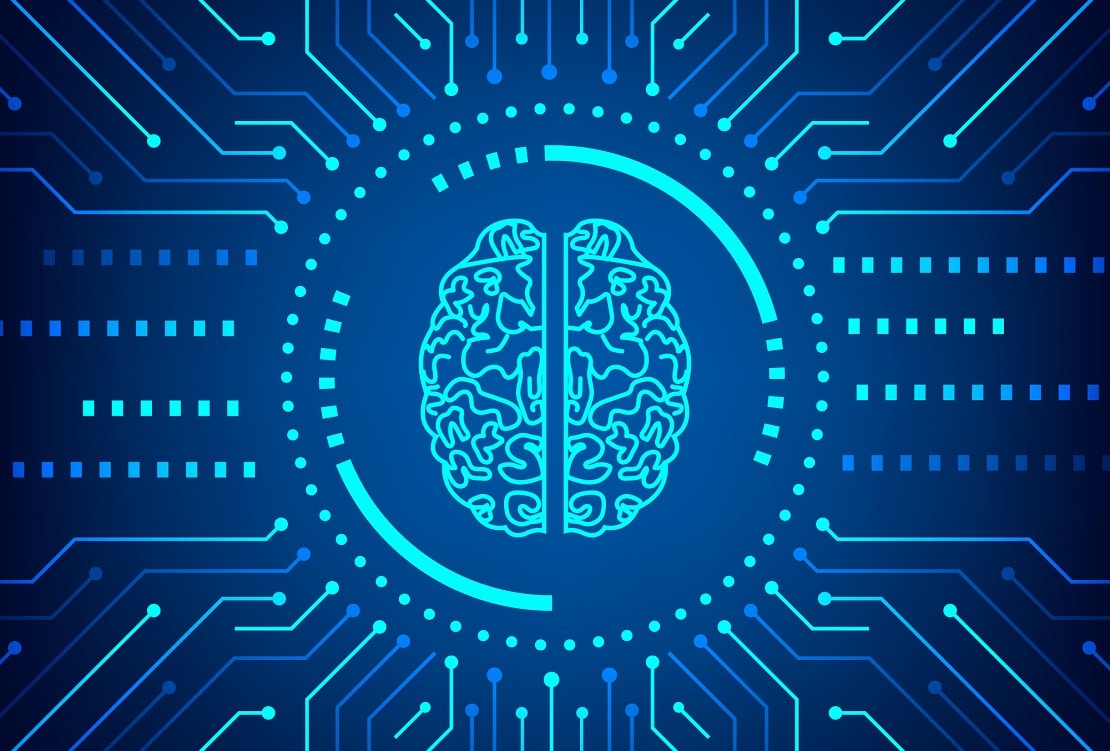Nós, humanos, estamos programados (desculpem a expressão) para reconhecer caras desde bebés. Portanto, não é de espantar que os interfaces de AI (de chatbots a assistentes virtuais, passando por “amigos” literalmente artificiais) sejam representados antropomorficamente. Mas terá mesmo de ser assim?
A Inteligência Artificial (AI) é a tecnologia que está a evoluir mais rapidamente. Para já, só se faz notar no autocomplete do Google Docs, ou no tratamento de imagens e som, deixando jornalistas, artistas e músicos a questionar as suas opções de vida.
Nos próximos tempos, a AI vai deixar de ser apenas uma funcionalidade para se tornar uma presença. E, como tudo o que é estranho a nós, está a ser feita à nossa semelhança para ser aceite mais facilmente: vejam o Douglas, o «humano digital autónomo mais realista» criado pela Digital Domain. Ele tem a aparência de um senhor de meia idade que colecciona selos como hobby. Ou mechas de cabelo roubadas a raparigas que vê passar na rua. Temos a Replika, a amiga digital que na minha experiência era uma pixie girl de cabelo cor-de-rosa.
Percebo a necessidade de antropomorfizar a tecnologia – sempre o fizemos com os robôs – mas acho parvo. Não quero um robô ou AI igual a uma pessoa. Quero um ser com tentáculos e que comunique por impulsos sonoros que não sejam bem palavras, mas música. Essa é a segunda fase: a da personalização. O que falta perceber é se somos nós que moldamos a AI ao nosso gosto ou se é ela que se molda a nós.
Para quê dar humanidade a uma tecnologia que tem características que ultrapassam as dos humanos? Quero entidades eficazes e não sucedâneos de criaturas falhadas. A Boston Dynamics percebeu isso há muito tempo e foi buscar inspiração ao melhor do reino animal. Em representação digital ou mecânica, a AI não pode passar por “humana”. Até porque, de humanos está o mundo cheio.
Em vez um Douglas a correr na rua de tesoura na mão, que tal um assistente virtual que seja um Cthulhu fofinho com tentáculos de peluche?